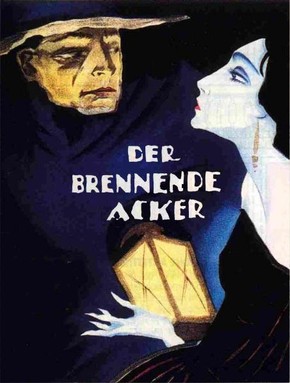Esta será
uma década para comemorar muitos centenários queridos ao cinema, pretexto para
rever filmes que assistimos mesmo sem precisar de pretexto, mas os achamos para
fazer das novas visitas aos clássicos uma obrigação. Ano passado foi a vez de Caligari,
de Wiene, ano que vem será a vez de Nosferatu, de Murnau. Encurralado
entre estas duas sinfonias do horror “um filme com um sorriso – e talvez uma
lágrima” (o talvez é puramente retórico, porque a lágrima é certa). A década de
1920 foi definitiva para mostrar o potencial artístico desta mídia nascida das
fábricas. Apesar disso, se havia alguém no universo cinematográfico que já
lograva dos louros da glória do reconhecimento de seu gênio artístico, esse
alguém era Charles Chaplin. Neste 2021 celebramos o centenário de O Garoto
como desculpa para rever um filme que não deixamos de rever ao longo de nosso
percurso pela cinefilia.
Para um
acadêmico como eu, os traços constituindo a genialidade de Chaplin já se
encontravam por todos os cantos na literatura teórica e crítica anterior a O
Garoto. Ainda assim, é interessante encontrar em The Photoplay um
professor de psicologia da universidade de Harvard – portanto, um intelectual
bem reconhecido entre seus pares – dando seus primeiros passos pelo cinema e já
em 1915 – ou seja, no segundo ano de Chaplin como artista de cinema –
reconhecer o diferencial e a superioridade deste criador de filmes. Como bem
apontará André Bazin décadas depois de Munsterberg – autor de The Photoplay
–, sem o ter lido, este é o período no cinema de Chaplin das grandes gags,
mas de um Carlitos ainda pouco desenvolvido em sua psicologia.
A
psicologia de Carlitos se desenvolve em concomitância à segurança autoral de
Chaplin, a cada vez que explore contradições sociais e políticas tendo como
ator este dândi meio cavalheiro meio vagabundo. Por sinal, este traço de
Chaplin realizador rendeu um belo filme revisitando a obra chapliniana no ano
passado, Charlie Chaplin, le génie de la liberté, de Yves Jeuland.
Não só a política encorpava a
persona das telas deste criador, também seus traços biográficos ajudavam a
pintar cenários e situações, movendo um Carlitos inicialmente mais próximo dos
hotéis de luxo para os bairros pobres e os centros comerciais das cidades,
lugares onde um Vagabundo como ele cada vez mais incorporava seu papel de
marginal pronto para tomar o centro da ação.
Assim O Garoto costuma ser lembrado, como esta grande peça onde a crítica social e a biografia de seu realizador entram em conluio. Eis uma boa fórmula para a justificativa de Chaplin como um autor, como gerações mais tarde cravarão. Todos os títulos são perfeitamente justos. Os temas do filme são muitos, a luta de classes, a maternidade, o papel da segurança do Estado, mas também é interessante notar a maestria do tratamento dado a tantos assuntos pesados de modo breve e que em momento algum soa “pregatório”. Pelo contrário, o fluxo da história trazendo um evento seguido de outro cria uma comoção continuada que transforma seus temas em assunto universal. Compreendemos todos os choques não porque os entendemos, mas porque os sentimos, o entendimento fica para um momento posterior de debate em sites de internet, em cadeiras de bar, ou em debates de sala de aula.
Ilustrativo
de tudo isto é o princípio do filme, narrando a história que levará ao abandono
da criança. A Mãe, numa performance tocante da parte de Edna Purviance, aparece
primeiro com seu bebê nos braços atrás das grades. Ela não estava presa e não
se trata de uma prisão, mas a maternidade voltada a mulheres pobres e solteiras
como ela carrega a atmosfera de prisão para mulheres delinquentes cujo crime é
a maternidade. Passando em frente a uma igreja numa peregrinação sem rumo, a
Mãe vê uma festa celebrando um matrimônio. Ela se entristece com a cena, seu
olhar é análogo ao de pinturas de santas, e isto não passa despercebido de
Chaplin que monta uma composição mostrando por meio do vitral da igreja às
costas da Mãe a sua santidade pelo milagre de ter trazido uma vida ao mundo.
Soa demasiado cristã esta última sentença? De fato, contudo o uso de imagens
cristãs será recorrente neste filme. Uma das mais famosas é o corte entre a Mãe
e um Cristo carregando a cruz, sequência que poderíamos apontar como
predecessora ao corte das ovelhas/trabalhadores em Tempos modernos, tão
frequentemente vinculado aos métodos de montagem de Eisenstein.
A história
de um casal quebrado, cujo amor resultou na criança que a Mãe agora carrega nos
braços, é sintetizada por alguns momentos breves que não dão motivos para o
rompimento do casal, apenas demarcam sentimentos de uma paixão ainda existente
mantida em silêncio, seguido por uma sensação melancólica. O pai é um pintor
pobre, trabalhando em algum sótão em ruínas. Ainda mantém a foto da mulher
sobre a lareira como uma lembrança de tempos melhores. Tentando acender um
fumo, acidentalmente deixa a fotografia cair na brasa. O papel se queima, a
lembrança da paixão foi maculada. Como se não houvesse mais precisão para o
presente, como se a própria memória tivesse sido apagada a fogo, o jovem pintor
lança o papel de volta às chamas para que desta vez seja de fato consumido,
retornando para sua banalidade presente desprovido de presença feminina.
Alongo a
contemplação da história deste casal porque estes momentos marcam um Chaplin
exercitando seu talento dramático, o que será levado ainda mais adiante dois
anos depois, quando lançará A Woman of Paris (no Brasil lançado com o
título Casamento ou luxo). Os motivos acerca da união destas personagens
são quase nulos. Os entendemos, fora da tela, como uma espécie de extensão da
representação dos pais de seu autor. Também pai e mãe de Chaplin eram artistas,
também não viviam juntos. Mas em O Garoto, o abandono do bebê acarreta
um sucesso de sabor amargo para ambos – e um prato farto para leituras
psicanalíticas. Num encontro da alta sociedade, já num momento mais avançado do
filme, Chaplin faz estas duas personagens se encontrarem. Não existem acusações
aqui, apenas arrependimentos e saudades. As perguntas nascem em nossa mente de
espectador: saberia ele que ela estava grávida? Teria ele a abandonado por
saber que ela estava grávida? Teria ele se recusado a casar-se com ela? Todas
as perguntas ficam para o campo da especulação. Durante a projeção do filme o
que melhor nos serve é o diálogo de emoções travado entre duas personagens tão
conflituosas.
Então, a
Mãe deixa o bebê dentro de um carro na frente de uma mansão na expectativa de
que os ricos moradores do lugar tomem a criança como sua. Numa reviravolta,
dois bandidos típicos dos filmes de Chaplin desde os anos de aprendizagem nos
estúdios de Mack Sennett, aparecem. Roubam o carro sem se dar conta da presença
da criança no banco traseiro. Param num bairro pobre para fumar, quando escutam
o choro da criança vindo do carro. Este é um daqueles momentos que justificam a
troca de terminologia de “cinema mudo” para “cinema silencioso”. Apesar do
choro não ser escutado pela plateia, ele faz parte da imagem-som, como diria
Luiz Manzano. Os cortes da imagem da criança chorando para a imagem dos
bandidos reagindo ao choro adiciona uma faixa de áudio ao filme, mesmo na
ausência de traquitana para gravar o choro da criança.
A
introdução do filme marca a força da montagem na criação desta história. A
maquiagem pesada dos bandidos, tentando criar cavidades escuras em seus rostos,
era um aspecto empregado pelos cômicos ao colocar tal tipo nos filmes. Acontece
que a imagem dos bandidos abandonando a criança num beco qualquer, longe da
mãe, em meio a latas de lixo, surge carregada de um senso angustiante quando
seguindo as imagens da Mãe em desespero voltando para recuperar o filho deixado
no carro e descobrindo que ele foi levado, que seu paradeiro não voltará a ser
encontrado. Diferente do que acontecerá assim que for apresentada a personagem
de Carlitos, que virá abolindo este uso mais direto da montagem, a introdução
dramática de O Garoto se baseia principalmente no diálogo emocional
entre dois polos. A chegada de Carlitos em cena é a passagem para o plano
aberto, dando espaço para a composição de quadro e movimento dentro do cenário.
Afinal, Carlitos é um bailarino.
O plano
mostra bem um beco sórdido, de terra batida e lixo pelo chão. Apresentando a
dinâmica do perigo do fora de quadro, lixo cai do alto do prédio em direção à
rua. Carlitos vê o acontecido e contorna o montinho de lixo recém-formado,
continuando a caminhada com toda a sua graça. Inesperado para ele, outra janela
mais a frente, também fora de quadro, se livrará do lixo diário atirando-o à
rua, agora acertando em cheio nosso velho conhecido. Parado entre lixeiras,
limpando o lixo com o qual foi atacado, o Vagabundo descobre um bebê
abandonado. A dinâmica até aqui foi clara, o inesperado vem de cima. Assim, quando
Carlitos toma o bebê nos braços não pode deixar de olhar para cima, como se
alguém tivesse misturado a criança acidentalmente com o lixo.
O que fazer
com a criança? O novo Carlitos, de profundidade e complexidade psicológica, não
é capaz de simplesmente deixá-la onde achou. Procura alguém com quem deixar,
talvez alguém que já tenha um bebê. Talvez não. A força da lei na figura de um
policial alto e sério que faz Carlitos dar passos para trás é curiosamente o
que também o leva à resignação. Encontra em meio às roupas da criança o objeto
que servirá de ligação entre passado e presente: um bilhete escrito pela Mãe
dizendo que se trata de uma criança órfã. Entendendo bem de solidão, Carlitos
acolhe o bebê, levando-o para casa. Quando questionado à porta do casebre,
responde que o nome da criança é “John”.
Os anos
passam, vemos os tratos do Vagabundo ao bebê, sua afeição pela criança, que
crescida se transforma em sua parceira de trabalho numa das cenas mais bem
lembradas da história do cinema. O menino, agora com cinco anos, atira pedras
contra vidraças residenciais. Sorte do acaso, Carlitos está passando em frente
às residências, podendo consertá-las de imediato. Muito já se escreveu a
respeito do brilhantismo do jovem Jackie Coogan interpretando a criança, assim
como muito já foi reportado acerca do entrosamento em cena de pai e filho.
Pulando etapas, chego ao momento do primeiro reencontro da Mãe com a criança
abandonada.
Já fora
mostrado como a passagem dos anos fizeram bem ao status social da Mãe, agora
uma artista de fama e fortuna. Mas algo lhe pesa na consciência, obrigando-a a
voltar aos bairros pobres para fazer caridade. Ela dá brinquedos às crianças
que se aglomeram ao seu redor, fazendo surgir enorme sorriso até então inédito
em seu rosto. Para uma outra mãe com uma criança de colo, para além do
brinquedo ela também dá uma moeda. Trata-se de uma parte muito sofrida da
cidade, onde as pessoas precisam se desdobrar para conseguir comida. As gags
de Carlitos e filho mostram bem o quanto de esforço criativo é necessário para
conseguir a moeda garantidora do jantar do dia.
Afastada
das crianças, o sorriso da Mãe desaparece. Não é preciso um recurso de montagem
para indicar o que se passa. Ela lembra de seu bebê abandonado, provavelmente
inquerindo onde ele poderia estar. Numa bela composição de quadro, a Mãe se
senta numa calçada à porta da casa 69. Como há um degrau a mais para entrar na
casa, a porta aparece alta às costas da Mãe. Enquanto ela se perde em seus
devaneios, a porta abre e o menino perdido senta-se logo atrás. Aquele quadro
dentro do quadro serve como uma espécie de balão mostrando pensamentos. Numa
imagem lírica digna do que Bergman fará décadas depois em suas experiências
atravessando mundos de sonhos e lembranças, um rasgo é feito no tecido do tempo
unindo Mãe e filho mais uma vez.
O encontro
entre os dois é comovente. A troca de olhares singelos, o carinho da mulher que
parece enxergar algo a mais na criança presenteada com brinquedos, um indizível
que permanece a incomodá-la. Enquanto ela se afasta do sítio do encontro, sua
reação diferente da reação tida anteriormente quando em companhia das outras
crianças, como se algo que conectasse os dois houvesse soado em seu interior,
mas a falta de exercício da maternidade dificultasse a compreensão do que seria
isso.
Me ative
por mais tempo para relembrar os momentos em que Carlitos não está em cena, mas
que demonstra a sapiência de seu criador na construção da composição e narração
fílmica. Era tamanha a sua facilidade em contar histórias em filme, mesmo
quando ele não aparece em cena, que este filme certamente foi um marco para sua
passagem a outra obra mais ousada dentro de sua filmografia, o já mencionado A
Woman of Paris.
Como artista da pantomima,
Chaplin domina o palco, alcança a perfeição do ritmo dos momentos e
deslocamento ao longo do cenário – lembremos da icônica sequência da corrida
pelos telhados, homenageada por Manoel de Oliveira em Aniki Bobó. Como
diretor de cinema, Chaplin demonstra o domínio do corte, da sequência de planos
em situações simultâneas em locais distintos, e da composição de quadro,
reconhecendo a importância de portas e janelas como forma de reenquadrar certos
personagens. Ainda, sabe da importância do som para o cinema, enxergando a sua
presença mesmo nesse período silencioso, demonstrando por isso a completude do
cinema, não uma falta – daí sua obstinação em se render ao cinema sonoro.
Retornamos
às cenas com descrições também alongadas para criar mais uma sensação de rever
este clássico. Não era necessário, mas já que estamos aqui, vamos rever O
Garoto?