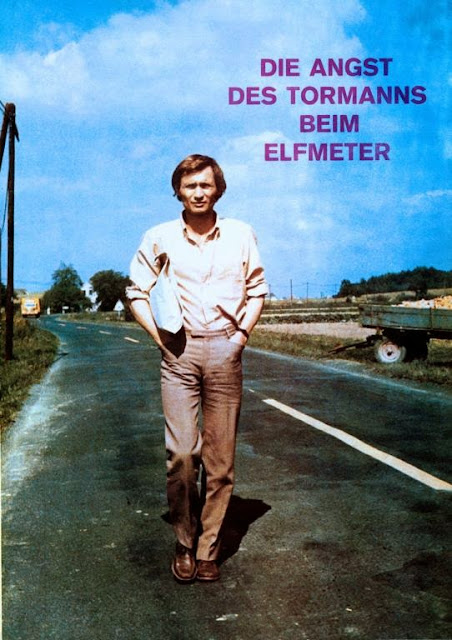É muito curioso quando nos deparamos com clássicos do cinema que não são famosos. Tornaram-se clássicos sobrevivendo num submundo do cinema de culto, sendo admirados por grandes nomes, muito mais conhecidos. Grandes nomes que por vezes põem sobre o filme uma admiração tal que nos faz perguntar: por que este filme não é mais conhecido? Lembro de uma fala de Peter Biskind muito significativa para este caso. Na fala (na verdade, na escrita) ele se refere a Hollywood, mas serve para qualquer lugar do mundo: o pior negócio em Hollywood é morrer. Pois é, morrer é um mau negócio para qualquer cineasta. Quem é o melhor militante de sua própria obra senão o próprio criador?
Jacques Becker, que conseguira iniciar seu trabalho como diretor de cinema ainda na segunda guerra mundial, parecia crescer artisticamente quando se abate de uma doença que o leva aos braços da inevitável. Se não bastasse, o faz quando Becker estava filmando Le trou, ou A um passo da liberdade. Havia filmado, montado, mas não havia feito a montagem de som. Morreu sem ver o filme ser lançado e aclamado. E exatamente por ter morrido, não houve ninguém para pô-lo entre os grandes - a película que dividiu o prêmio de melhor filme do sindicato dos críticos de cinema com Acossado de Godard. E não é exagero algum colocá-lo lado a lado ao debute do grande Godard.
Carlos Reichenbach, em entrevista à Contracampo, ressaltava as qualidades deste filme desconhecido da cinefilia brasileira. A entrevista data do milênio passado: calma, é 1999. Na época, Reichenbach havia conseguido uma cópia em terras francesas e trouxe a película até nós. Fez algumas exibições e conseguiu alguns defensores para a obra. Seu elogio ao filme na entrevista realizada por Ruy Gardnier e Daniel Caetano, o cineasta se refere tão somente a uma cena para poder captar o fascínio do leitor para com a película. Com as devidas aspas: "fica vinte minutos filmando o cara quebrando uma pedra! Fica o cara quebrando o assoalho e você não desgruda o olho da tela! Isso aí é coisa de gênio."
A admiração de Reichenbach quanto ao filme de Becker não passa despercebida por seu entusiasmo no elogio. Admiração e entusiasmo que também se apresentaram (e continua a apresentar) em mim. E quão espantosa é a cena em que, com plano fixo, Becker nos mostra a quebra do assoalho da cela de uma prisão! Somos envolvidos nela de modo tão profundo quanto inquietante. Para além do bater no cimento, do cavar a terra e os detritos, do revezamento entre os prisioneiros, a cena consegue nos demonstrar a dor, a exaustão da tarefa. Aliada à imagem do cavar está o som do esforço dos presos. A respiração ofegante. É doloroso, mas acompanhamos atentos como se fossemos um dos presos. Esperamos ansiosamente o outro lado, finalmente enxergar a finalidade: um vislumbre da liberdade.
Tudo começa com um jovem prisioneiro entrando na cela. Estava sendo transferido de uma para outra. Motivo? Não nos é dado, nem nos interessa. Os presos de sua nova cela são muito companheiros uns com os outros. Demonstram muita intimidade - e os atores conseguem demonstrar o mesmo, o que ajuda a nos conectar rapidamente com os personagens. O motivo pelo qual estão ali também não nos é dito, nem teremos interesse em saber. Tudo o que sabemos é que eles passarão uma longa temporada presos. E por isso querem fugir. O novato, Gaspard, é o único cuja história e motivo de estar preso nos será revelada. A única história frágil o suficiente para poder resultar numa posterior liberdade antecipada - coisa que os seus parceiros de cela parecem ignorar. E então o colocam junto no plano de fuga.
O que acontece no resto do filme é esta documentação precisa do processo de construção de uma fuga da prisão. Não acompanhamos a criação do projeto. Chegamos com tudo já bolado. Roland é o sujeito encarregado de liderar o grupo. É ele quem possui o plano em mente e guia o resto dos presos em suas ações. Ele é o primeiro a pegar o ferro da cama inutilizada pelo excesso de presos na cela e a bater no chão. É uma crueza documental. Câmera fixa, sempre. Campo/contracampo aqui e ali para acompanhar o movimento dos personagens. Por fim eles chegam ao esgoto. Cavando no esgoto para chegar à rua, um desmoronamento. Geo é enterrado, mas sobrevive. Episódio que poderia ser acentuado dramaticamente não passa de um percalço - como o aparecimento inesperado de um policial na rota de fuga.
Esta característica documental é pontuada pela primeira imagem do filme. Roland, agora livre e consertando um carro no que parece ser seu trabalho numa oficina mecânica, volta-se à câmera e anuncia que a história a seguir é baseada em eventos reais vividos por ele no ano de 1947 - 13 anos antes do lançamento do filme. Esta ideia de documentação de uma memória será feita a risca, mas não enquanto desvendamento de algum dos envolvidos no caso - descobrir porque fulano fez isso, ou aquilo. A documentação do passado volta-se para a ação. Existe um fato que merece ser captado pela câmera. Mais do que simplesmente visto, sentido. E o trabalho de escavação das paredes é extremamente significativo. É um trabalho penoso, mas vale mais a pena produzi-lo do que ficar longe da rua.
Por outro lado, dentro da prisão, não são postos grandes problemas que possam demonstrar a motivação aguda dos presos de querer sair de lá. O único deles que manifesta não querer sair, Geo, o faz por não ter família do lado de fora. Para ele, tanto faz ficar dentro como fora da prisão. A motivação da fuga dos demais não é dada. E nem Becker procurará. Os policiais não são maus - e o episódio dos encanadores diz muito nesse sentido. Este não buscar as causas poderia ser visto por alguns como sendo defeito do filme. Mas é, na verdade, sua maior virtude. Becker mostra-nos os fatos. O que se apresenta perante sua câmera é o movimento - aspecto primordial do dispositivo cinematográfico. Se é o movimento que mais importa ao cinema, é o movimento que surgirá em Le trou. E o movimento aqui é lento e gradual, mas em momento algum cansativo - por vezes doloroso.